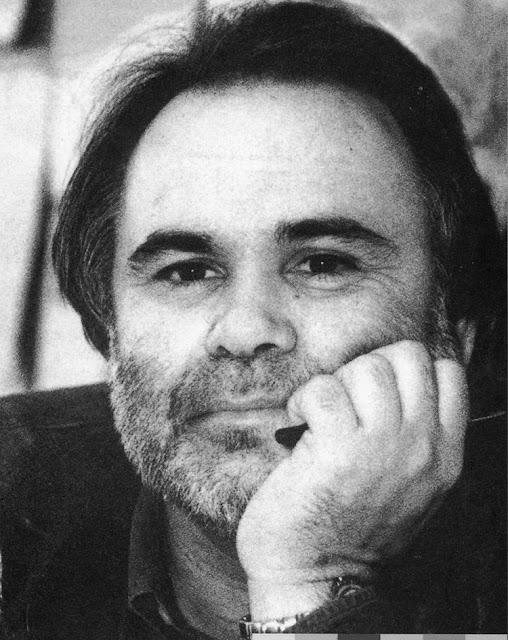Foi lindo e emocionante o fim de tarde de ontem em que nos reunimos no São Luis para estar com a Lena e partilharmos as suas histórias do tempo do combate e da resistència ao fascismo salazarista.
O tempo em que «eramos todos velhos» como bem definiu a Maria Antónia Fiadeiro no filme «48» da Susana Sousa Dias.
No final a Lena brindou-nos com uma intervenção extraordinária. Pela actualidade. Pela pertinência. Pela lucidez.
Por tudo isso não pode ficar apenas entre os que estiveram ontem no São Luiz. Deixo-a aqui para todos.
*
Minhas queridas amigas
Meus queridos amigos
(…) Brindaremos à preservação da memória da Resistência antifascista mas, também, à esperança com que temos de encarar as batalhas do futuro. Batalhas, sim, e duras, que não nos livraremos dessa estrela.
Peço-vos que me desculpem as palavras que, a este propósito, a seguir, vos dirijo, já que, à primeira vista, talvez vos pareçam sem relação com o livro. Creio que assim não é.
Esta série de histórias, a que dei o título «Já uma estrela se levanta», é uma trança de emoções e de afectos, no tecido da realidade dramaticamente adversa que foi a ditadura. Chamem-lhe ditadura, fascismo, o que preferirem, mas uma parte de mim e de muitos amigos aqui presentes ficou por lá, perdida para sempre. O facto de ser mulher salvou-me das agruras da guerra colonial, que fez perder a juventude aos homens da minha geração. No entanto, vivi 35 anos nesse regime de perseguições, prisões e torturas, e é essa realidade que teimo em ajudar a reavivar, pois que é essa realidade que insistem em querer fazer-nos esquecer. Veja-se o recente julgamento, num processo movido pelos herdeiros do Director da PIDE Silva Pais. Com o maior dos despudores, o Estado democrático atira para o tribunal uma escritora, acusando-a de, num texto literário, difamar um homem que, por enorme complacência desse mesmo estado, nunca respondeu por milhares e milhares de inegáveis crimes cometidos sob a sua responsabilidade.
Um tal ameaça à liberdade de expressão, uma tal ofensa à memória de milhares e milhares de vítimas da PIDE, deviam contar com um grito de revolta, vindo não apenas de quem se recorda do fascismo, como também dos jovens que, recentemente, revelaram a enorme capacidade de, com recurso às redes sociais, se organizarem com outras preocupações e desfilarem na Avenida da Liberdade. Não senhor, uns e outros parecem não lhe dar importância. Talvez porque o branqueamento do passado não seja coisa que aflija. Somos muito «prá frentex» e o que lá vai, lá vai.
Ouço dizer: «Para quê voltar às recordações desse tempo? São feridas fechadas, agora vivemos num Estado democrático e esse Estado democrático está integrado na vasta democracia que é a Comunidade Europeia. O regresso a ditaduras está fora de questão!». Os amigos aqui presentes conhecem-me: sou uma incorrigível optimista. Contudo, tratando-se de crenças, confesso-me agnóstica. De há uns tempos para cá, assisto, perplexa e receosa ao que se passa no Egipto, insurjo-me com os desenvolvimentos que vão fazer História na Líbia, enquanto, na Europa, assistimos à chegada ao poder dos altos interesses financeiros, pela via democrática. É um amargo «pão-nosso» de cada dia. Estamos, objectivamente, a caminho de uma Europa governada pela extrema-direita, ou por conservadores apoiados em parlamentares da extrema-direita.
Ao apresentar-vos mais uma mão-cheia de histórias de um período da nossa História tão marcado pela ideologia fascista, regozijo-me por viver em democracia, e não quero estabelecer comparações. Porém, nessa situação europeia, e confrontada com a imparável crise internacional causada por um capitalismo especulativo, olho apreensiva para o nosso país.
Mas será que Já uma estrela se levanta – como escrevo no título? Não acho. Vejo a nossa sociedade economicamente muito vulnerável e, ao longo da última semana, percebi que se aproxima uma escalada política imparável, com esta direita ultra liberal na governação: é um quadro particularmente assustador para quem, como eu, nasceu em 1939. Dir-me-ão: «É a vida!»
É claro que é a vida, que houve eleições, que os resultados aritméticos são inquestionáveis, e que assim estamos. Muito bem. Ou muito mal, depende dos pontos de vista. Mas a questão que me suscita real apreensão surge-me, isso sim, quando olho a nossa democracia de um outro ângulo. Estará preparada para vir a resistir ao estrangular das liberdades? Reforça-se ou submete-se?
Sabemos que a democracia, nascida com a revolução de Abril, trouxe aos portugueses enormes progressos em matéria de escolaridade. Contudo, lamentavelmente, ainda não conseguimos ver correspondentes reflexos no seu nível cultural, no seu nível de civismo, ou de cidadania. Parece-me que a nossa sociedade continua com poucos hábitos de participação cívica e que se encontra demasiado vulnerável à penetração de receitas de facilidade. Na cultura, na educação, como na política. A desmotivação relativamente à vida política torna os cidadãos seguidores, ou perseguidores acidentais, de personalidades, e não sujeitos que optam por ideias ou que as combatem. São poucos os que vemos participar politicamente, libertos de intenções imediatistas ou de interesses estritamente individuais: o interesse colectivo, o interesse nacional, tem vindo a deixar de estar presente nas escolhas que fazemos.
Ocorre-me que, para o amadurecimento da nossa ainda jovem Democracia, se é grave a elevada abstenção nos actos eleitorais, certamente associada a uma grande descrença nas soluções apresentadas no âmbito do actual sistema partidário, talvez seja bem pior a participação eleitoral de quem, «consumidor dependente» de «faits divers» e de retratos robots oferecidos pela comunicação social, associa uma cruz a uma escolha frivolamente ocasional. De facto, no mundo conturbado em que vivemos, é terrível o extraordinário poder persuasivo detido pela comunicação social, num crescente e apurado jogo de técnicas de fabrico de opinião pública. Sobretudo porque se dirige, mais ou menos inteligentemente, a um universo de crédulos cidadãos com poucos hábitos de reflexão crítica, e com um limitado nível de educação para a cidadania.
A opinião pública, tornada vontade popular, nasce de uma torrente obscura de interesses veiculados por um sistema mediático que, sob uma capa de aparente pluralismo e de inquestionável objectividade, nos esconde a realidade, pactua com oportunismos e com demagogias, constrói universos à medida das exigências dos poderes instituídos, das modas e das audiências. Tenho a ideia, porventura linear, de que, nesta matéria, as regras do jogo se mantêm desde o 25 de Abril, isto é, continua a ditar quem pode. Há excepções? Claro que há excepções. O que inquieta, como diz um amigo, é as excepções poderem ser cada vez mais raras.
Se há inúmeros jornalistas e comentadores a quem reconhecemos extraordinária isenção, se a rádio parece ser uma honrosa excepção, já a chamada imprensa séria vem assumindo, cada vez mais, o papel antes reservado aos tablóides e passa da função informativa à disputa da liderança de opiniões. Dinamiza “causas públicas” aguçando ódios. Por outro lado, a televisão é, realmente, uma arma de destruição maciça da cidadania, lançada sobre um público que vive acriticamente entalado entre uma programação de lazer com pouca qualidade, e uma informação entediante, produzida, senão por encomenda dos diferentes poderes, pelo menos alheada do nível cultural e político daqueles a quem se destina e, em certos casos, com o único objectivo de lhes formatar o pensamento. Na Net, as redes sociais que parecem ser um campo de comunicação enormemente construtivo e enriquecedor, são-no de facto, mas apenas para uma minoria esclarecida, já que, para uma maioria, consomem gratuitamente tempo e empobrecem as relações, destroem expectativas de genuína participação cívica.
Por isso, ao entregar-vos mais algumas recordações de um passado longínquo, faço-o com um profundo medo: medo de que, na crise, também moral, que atravessamos, a falta de cultura e a ausência de ideias próprias, para não falar do vazio de ideologias, por parte de ainda muitos cidadãos, seja um terreno extremamente propício a populismos e à alienação de liberdades – primeiro de pensamento, depois de expressão, e por aí fora. A ditadura pode espreitar e, ainda que sob forma diferente daquela do passado, entrar de mansinho, na tradição portuguesa de brandura, e instalar-se. Travestida de madrinha protectora da frágil nação.
Chega-nos de todos os lados a opinião, repetida como um slogan, de que o futuro tem de se construir com os jovens. Só concebo um futuro que valha a pena com democracia plena, económica, social e política, e tenho para mim que apenas caminharemos nesse sentido com a participação generosa, activa, mas sobretudo inteligente, das novas gerações. Estou certa de que a batalha da cidadania estará perdida se não contarmos com jovens preparados para opinarem de forma responsável sobre o seu futuro, e capazes de fazerem, a cada momento, escolhas emancipadas, livres e conscientes. As ofertas culturais, a Comunicação Social e o Ensino detêm, nessa perspectiva, grande responsabilidade e um papel determinante. Oxalá! – Digo-o com grande franqueza. Mas, na Educação, apenas me anima a ideia de que a vida nos ensina que não há mal que não acabe, pois que…
Por enquanto, tudo aponta para um desinvestimento na formação cívica dos jovens e no desenvolvimento da sua inteligência e do seu espírito crítico. Isto, a avaliar pela matriz ideológica do actual ministro, revelada ao longo da última década como comentador, quer nas obsessivas críticas às Ciências da Educação, quer à docência, primeiro da Matemática e, depois, na generalidade dos ensinos básico e secundário. São críticas que reflectem uma visão ultra conservadora da Educação e do Ensino, um profundo desconhecimento acerca das diferentes metodologias e didácticas praticadas no nosso país, e, sobretudo, uma enorme ignorância sobre conceitos fundamentais de Psicologia da aprendizagem – que ele confunde, consciente ou inconscientemente, com «pseudoconceitos», estranhos à Ciência e à comunidade científica. A mim, tal como a muitos professores de Matemática que o seguiam na comunicação social, sempre me espantou, num homem de Ciência, a falta de rigor intelectual, ao ridicularizar, recorrendo a exemplos isolados e caricatos, didácticas e práticas docentes de grande sucesso, que algumas colegas aqui presentes podem testemunhar.
Às vezes, ocorre-me que temos à frente do Ministério da Educação um fundamentalista com uma guerra santa: pôr termo à ligação do ensino à vida e a qualquer pedagogia posterior aos anos 50. Serão receios infundados?
Em todo o caso, estamos perante um governante que terá uma urgente aprendizagem prática a fazer:
– Que o regresso aos seus anos de liceu já não é possível
– Que as considerações que tão aplicadamente fazia na comunicação social estavam, afinal, radicadas no mais profundo desconhecimento da realidade social e escolar portuguesas
– Que, à frente de um ministério, não pode insistir em ignorar as orientações educativas europeias e mundiais.
O período extraordinariamente complexo que vivemos exige-nos, qualquer que seja a nossa opção política, uma maior participação cívica no traçar dos destinos do País, uma maior interiorização dos deveres de solidariedade social e de cidadania, com um acrescido e empenhado esforço na concretização desses deveres. E acredito que nós, obreiros e herdeiros de Abril de todas as gerações, não abdicaremos do papel interventivo e generoso, que nos cabe neste largo combate, seja na frente educacional, seja na frente política ou da Cultura.
De resto…
Como se cantava no hino de Caxias, de onde retirei o título para este livro: «Vá mais um passo, camarada, já uma estrela se levanta, cada fio de vontade são dois braços e cada braço uma alavanca»
A todas as amigas e a todos os amigos aqui presentes, tão diversos - «mouros e cristãos, pretos e brancos, e nem uma coisa nem outra» - agradeço a presença, esperançada em que retirem prazer da leitura deste livro.
Pudesse eu dar-vos um só abraço, um abraço que vos juntasse e nos fizesse sentir que, nas boas almas, todas as diferenças são realmente ultrapassáveis…
Helena Pato
São Luiz, 27 de Junho de 2011