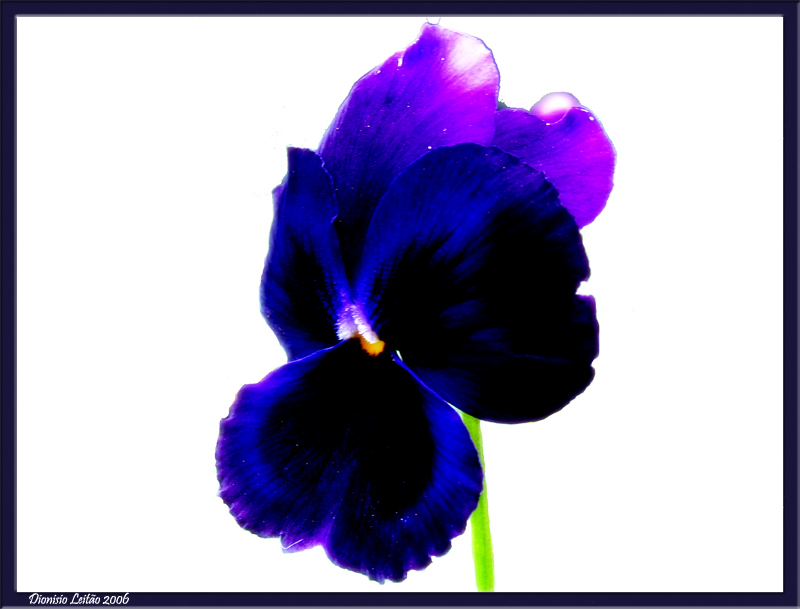|
| Manuel Rodrigues Lapa (1897-1989) |
A 1 de Janeiro de 1949 iniciara-se a campanha eleitoral para a Presidência da República. Pela primeira vez aparecia um candidato oposicionista, o General Norton de Matos. Iam ser postas à prova as "eleições livres e democráticas" prometidas por Salazar.
A imprensa trazia para a ribalta a voz da oposição.
Segue-se a entrevista a Manuel Rodrigues Lapa, publicada no Diário de Lisboa de 5 de Janeiro de 1949.
Como se sabe, Manuel Rodrigues Lapa seria preso no dia seguinte e encarcerado no Aljube, sendo solto a 10 do mesmo mês.
________________________________________________________
ENTREVISTA
Com a abertura do período eleitoral, logo se anunciou que se iam fazer criticas severas à obra da actual situação, e o próprio Governo declarou que esperava essas criticas e não se oporia a que fossem apresentadas, com perfeita liberdade de expressão. Um dos aspectos que mais têm sido focados pelos que se opõem ao regime vigente é o que se refere ao ensino. Aproveitámos um encontro com um dos mais categorizados professores universitários da oposição, para abordar, precisamente, este problema.
O nosso entrevistado é o professor dr Manuel Rodrigues Lapa, erudito a quem se deve uma obra valiosa de investigação e vulgarização literária. Depois de completar os seus estudos em Paris, o prof Rodrigues Lapa entrou na Faculdade de Letras de Lisboa, onde regeu a cadeira de Filologia e Literatura Portuguesas até Maio de 1935, em que foi demitido por motivos políticos, incluído na primeira lista dos funcionários afastados conhecida sob a designação de «Lista dos 33». (…) Foi director do semanário O Diabo de 1935 a 1937. Actualmente (…) trabalha numa reedição das suas «Lições da Literatura Portuguesa, das Obras de Tomas António Gonzaga, que publicou no Brasil, e da Estilística da Língua Portuguesa. Dirige, além disso, a colecção de Textos Literários da «Seara Nova».
Considerado uma das nossas maiores autoridades em assuntos de literatura portuguesa, o professor Rodrigues Lapa é geralmente conhecido como um dos mais firmes adversários da actual situação politica. Eis a razão por que, neste momento, a sua opinião se reveste de particular interesse.
P – Que pensa, como professor, sobre os problemas do ensino durante este regime?
R – Se nos vários departamentos da governação e administração muito há a criticar, os erros, quase diria os crimes em matéria de educação são de tal ordem, que excedem o que de pior se pode imaginar a tal respeito.
P – Diga então…
R – Não é agora a altura de entrar em pormenores, que terão cabimento em outro lugar e poderão esconder, tal a sua espessura, a verdadeira face do problema. As criticas serão feitas por entidades competentes e especializadas.
P – Mas o doutor …
A Situação do Ensino
R – Eu não me escusarei a fazer também essas criticas concretas e indispensáveis. Na próxima reunião de sábado, na Voz do Operário, tenciono mesmo apresentar um trabalho de critica ao ensino universitário – aquele, naturalmente, com o qual mais tenho contactado.
Por agora, o que já lhe posso dizer é esta cruel realidade: retrocedemos mais de um século nos princípios e nos métodos educativos. Tudo o que a Republica criou, logo após o seu advento, inspirada nas concepções do progresso e da liberdade, com uma franqueza por vezes ingénua, mas simpaticamente generosa, foi suprimido ou abastardado pelos pedagogos da Ditadura. E vê-se bem porquê. A principal preocupação dum regime despótico é deformar a alma simples e generosa da mocidade, porque tem a convicção, bem fundada, de que, se ela lhe foge, não encontra condições de sobrevivência. Por isso, lança mão da escola, logo a seguir aos quartéis. E que faz então? Com atropelo dos mais sagrados princípios da ciência da educação, procura levar para a escola a disciplina imposta dos quartéis, a sua férrea hierarquia, o sentido da obediência passiva. Nem por um momento lhe acode, nem pode acudir, que a alma da criança é como a flor, que precisa de ar e luz para viver; e que só com os estímulos da liberdade a criança se conhece e se revela.
Entramos então no capitulo da «pedagogia heróica», que é o contraposto da verdadeira pedagogia: rufos de tambor, marchas pelas ruas da cidade, braços ao alto e a algazarra das canções agressivas. Os pais e as mães contemplam tristemente os seus filhos, desviados dos seus deveres de estudantes pacíficos para esta mascarada bélica e ruidosa. É a isto que se chama nacionalismo, uma coisa que parece ter sido inventada pela Ditadura … Este espectáculo, que reduz o mocinho à condição mesquinha de autómato, cessa mais ou menos, quando o estudante entra para a escola superior, já com barba na cara, um pedacinho de homem. A inteligência e o carácter já estão meio formados. O ambiente das Universidades, agora purificadas da lepra dos maus professores, as lições dos conspícuos catedráticos, graves nas suas cadeiras vitalícias, acabam por fazer o resto: é mais um bacharel submisso que se senta à mesa do orçamento, ruminando sossegadamente a sua ração diária, feliz, tranquilo, só saindo do seu beatifico torpor, quando se trate de assistir a uma dessas manifestações espontâneas sugeridas pelo seu superior hierárquico.
É destes cidadãos que a Ditadura quer fabricar em série, através das suas escolas? Que lhe prestem; mas, ou muito nos enganamos, ou a mocidade de hoje, permeável às solicitações do ambiente, contrário ao regime, recebendo incitações da parte culta e sã da Nação, não se deixa totalmente corromper e encontra em si mesma e no ar que respira o antídoto contra os venenos que lhe querem instilar. Pobre mocidade! Nós a salvaremos da ignomínia e da servidão. Nós lhe incutiremos o verdadeiro nacionalismo, que é o culto da verdade no amor da Pátria, a compreensão fraterna e o sentimento da humanidade.
O Modelo Político
P – Vê-se que as suas preocupações politicas continuam vivas. Que pensa do momento politico actual?
R – Ora! O que pensa toda a gente de bom senso: que é chegada a oportunidade de acabar sem sobressalto, com este estado de coisas, que nos envergonha como europeus (continuamos a ser os cafres da Europa, como nos alcunhavam no século XVII), e nos está causando graves inconvenientes, impedindo que possamos entrar na grande família das Nações Unidas. O regime que há 22 anos nos desgoverna e nos oprime – apesar do rótulo de «democracia orgânica» com que o quiseram camuflar – não tem a menor possibilidade de ingresso, a não ser que se dê a mudança das instituições vigentes, com base nos princípios da verdadeira democracia.
Insisto no adjectivo verdadeira: regime do povo, pelo povo e para o povo, considerado na sua totalidade e com igualdade de todos os cidadãos e a mesma garantia de acesso aos bens da vida. O termo anda de tal modo adulterado, que é necessário reconduzi-lo ao seu significado genuíno, que não pode deixar de ser o que apontei. Enfim, meu caro amigo, e revertendo ao principio, se houvesse nos homens da Situação um pouco de senso-comum e não estivessem muitos deles soldados a isto por interesses que não têm nada de espiritual, era chegada a ocasião de se escapulirem pelas traseiras, com menor prejuízo para a integridade do físico. Mas sucede com eles o que sucede com todos os regimes em decomposição: quanto menos crêem na sobrevivência das instituições que os mantêm, mais aferradamente se empenham na sua defesa.
P – Pensa então que o regime actual se aproxima do fim?
R – Sem duvida. É uma corrida vertiginosa para o abismo. Em 22 anos de Ditadura não convenceram ninguém; e muitos que ajudaram o monstro a nascer, desiludidos e ultrajados, já viram as armas contra ele. Chega a ser cómico o trágico desta situação, que apenas se segura no alto duma baioneta.
A Posição do Escritor
R – Sou escritor e orgulho-me de ter sido algum tempo jornalista, director do jornal O Diabo, órgão da oposição, já se vê. O que passei nesse tempo com a Censura daria para contos largos: paginas inteiras deitadas abaixo pelo lápis azul, o mais vivio e acerado do pensamento obrigado a um silencio injusto, tudo isso, toda essa revolta acumulada na alma, marca um homem para sempre. Desde esse momento compreendi a trágica situação de muitos jornalistas submetidos à censura. Um jornalista manietado, que não ausculta livremente a opinião publica, que se vê forçado a publicar versões falsas ou deturpadas dos acontecimentos, deve sofrer muito. É realmente de endoidecer. Por isso, é aproveitar esta liberdade que nos concedem, de muito má vontade, encher os pulmões de ar fresco e dizê-las boas e bonitas. O dever dos escritores – não consideramos como tais certos escribas arregimentados – é e sempre foi, nos períodos culminantes de crise, como esta que atravessamos, dar o corpo ao manifesto, servir as aspirações do povo, comungar com ele no seu anseio de liberdade e justiça.
P – Defende, portanto, a participação activa do escritor na propaganda política?
R – Pois claro. Não traímos a nossa missão, descendo de vez em quando do nosso gabinete à praça publica, onde rumorejam as multidões do povo que trabalha. Ele precisa de nós, do nosso saber, a que ainda não chegou, do nosso conselho. Nós precisamos dele, da sua energia pura e palpitante, do seu entusiasmo criador.
P – E qual a posição do escritor em face dos actuais problemas políticos nacionais?
R – Estou absolutamente convencido de que a grande maioria dos escritores portugueses está, neste lance decisivo, ao lado do candidato que consubstancia as aspirações do povo e que promete solenemente dar-lhes satisfação, empenhando nisso a sua honra de soldado, que o é de verdade, como o provam a sua acção em África e por ocasião da outra Guerra, ao serviço duma grande causa civilizadora. Não é o homem que sobretudo nos interessa: é o que ele simboliza para nós: um ideal de Democracia actuante, que conduza o País pela via do Progresso e da Liberdade.
in Diário de Lisboa de 5 Janeiro 1949